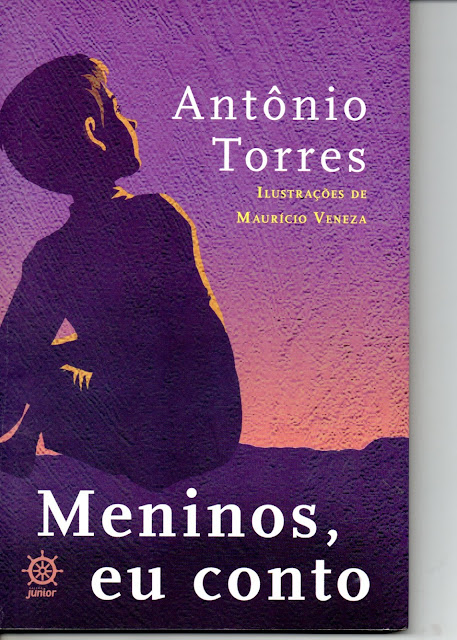CARTAS D'ALÉM-MAR, Epistolário de Dom
Luciano Duarte, Ana Maria Fonseca Medina (organizadora), Edise, 2020, 497
páginas, isbn 978-855-317-8698.
Não são cartas apenas...
São diários de viagem, são ensaios de
filosofia, são reflexões, são trechos da história universal... São pérolas
literárias com a escrita objetiva, útil, articulada, lógica, própria do
intelectual Luciano Cabral Duarte, seminarista, padre, bispo, arcebispo e
imortal da Academia Sergipana de Letras. Um dos grandes sergipanos em todos os
tempos.
E eu tive a glória de conviver momentos
rápidos mas que me marcaram a vida de cidadão e de escritor com o seminarista
Luciano Cabral Duarte. Por volta de 1958, quando cheguei ao seminário, fui
encarregado de organizar a grande biblioteca que estava jogada. Foi meu batismo
de fogo com a literatura religiosa e mundana. Prateleiras cheias de livros com
o nome do seminarista Luciano Cabral. Clássicos da literatura. Santo Tomás de Aquino, Eça de Queiroz, Almeida Garrett, Alexandre Herculano, Camilo Castelo Branco e muitos outros. Li-os com voracidade. Bebi da mesma água
mas tão sofregamente que quase toda entornou, escorreu pelos cantos da boca.
“Cartas de Além Mar” é o epistolário do
Padre Luciano Cabral Duarte, no período de 1954 a 1957 quando fez, na Sorbonne,
em Paris, o doutorando em filosofia. Nem todas as cartas escritas estão no
livro, algumas tratavam de assuntos muito particulares e foram eliminadas. As que estão revelam ricas impressões de um viajante culto e curioso. São um guia para quem pretende ir à Europa, como eu. Se Luciano planeja visitar o Vale do Loire, descreve
tecnicamente seus castelos espetaculares, impregnando-nos da mesma tentação
irresistível. E na visita real, leva-nos junto, como um guia perspicaz que nos
faz viver o encantamento presencial. Então, talvez eu nem precise ir mais, como
pretendia cinco linhas acima. Se Luciano está em Toledo,
rememora a velha cidade que foi sede dos reis de Espanha no tempo dos Godos e
Visigodos (séculos 7 e 8); se está em Jerusalém, percorre os caminhos do velho
testamento com seus reis e profetas; se passa em Copenhaque, relembra a epopeia
dos navegadores Vikings que desceram das terras geladas e invadiram a
Inglaterra e a Normandia no século X.
Mesmo distante, Luciano comenta o que
acontece no seu País, no seu Estado, em Aracaju, em Boquim. A tramas e
descaminhos da política; os dramas e efemérides da família; as festas, as
fofocas, os eventos. O jornal “A Cruzada” chega toda semana junto com revistas,
com os calhamaços do leste, com as cartas de retorno.
As notas ao rodapé vão dando conta de
elucidar situações que parecem estranhas para estranhos ao dia a dia da família
Cabral e ao círculo de amizades, às citações de passagens. Aquele Olavinho...
quem seria mesmo, no meio de tantos? E Antônio Cabral? E o pregador Lacordaire?
A primeira carta é datada em 01 de
setembro de 1954 quando o autor está em Niterói pronto para embarcar para a
Europa. Doze dias de mar silencioso e profundo nas mãos de Deus e se
equilibrando em um caixote de madeira e ferro. E vem a segunda e a terceira, do
bordo do navio Charles Tellier, de Las Palmas e de Lisboa. Está chegando. E,
muitas cartas de Paris, e de várias cidades da Europa, de outras partes em
volta, aonde o padre arguto estendeu-se em busca de sabedorias. E vem última
carta, também de Paris, em 10 de dezembro de 1957. Retorna ao Brasil, coberto
de louros pelo sucesso absoluto na avaliação dos doutores da Sorbonne.
Os destinatários foram: a irmã
Carminha, que foi guardiã zelosa; o pai, a mãe, os amigos mais chegados. Padre
Luciano pedia-lhes que guardassem as cartas pois precisaria delas (como
precisou para escrever Europa Ver e Olhar, imagino) pois não dispunha de tempo
para registrar, em paralelo, relatos de seu dia a dia.
xxx
Todos os seminaristas estavam sentados,
em uma quinta-feira à noitinha, no espaço de lazer que servia de plateia de
teatro do velho seminário da rua Dom José Thomaz, 194. Alguns impaciantes,
outros ansiosos, uns calados outros na anarquia simulada.
Chegou o conferencista, Dom Luciano
Cabral Duarte. Acontecia em 1960 ou 1961.
O reitor levantou o braço e o silêncio
se instalou por meio minuto. Dom Luciano abriu a boca e todos nós embarcamos
numa viagem vertiginosa por um mundo novo, de fantasia. Pela Europa que seria
muito depois da Bahia. Uma hora inteira, e eu de fôlego preso, correndo Roma,
Lisboa, de Paris, que eu não sabia que existiam assim. De boca aberta, puxado
pela mão do padre Luciano. Versalhes, Notre Dame, Louvre, Fontainebleu.
Castelos, Catedrais, museus, alamedas, torres... Era o lançamento do livro
“Europa, Ver e Olhar”.
Peguei um empréstimo com Paulo de
Figueiredo e comprei um exemplar para mim. Quando a saudade da Terra Vermelha
me apertava eu ia para a Europa passear.
Xxx
Além das cartas, o padre Luciano mandou, semanalmente, artigos e reportagens (como a peregrinação a Palestina) para serem publicadas
semanalmente no jornal “A Cruzada”. Sempre manteve viva a voz católica do
jornalismo sergipano, de que foi seu timoneiro e o projetou no mundo. (Anos depois, seria, por conta de jornais de renome, enviado especial para cobertura do Concílio Vaticano II e para o Congresso Internacional Eucarístico de Bombaim).
Em 1966, eu era o redator-chefe do
jornal “A Cruzada”. Está no Expediente, no livro “Meninos que não Queriam ser
Padres” e nos arquivos do Instituto \histórico e Geográfico de Sergipe. Risco,
sufoco e mágicas. Como imprimir a edição da semana se o papel acabara na anterior? E o chumbo? E a linotipos engripada? E a caixa de tipos
empastelada? E também o artigo da última página que não chegara para fechar o jornal?
As oficinas e a redação eram na rua
Propriá, mas as decisões maiores eram na rua Santo Amaro, para onde eu corria,
buscar a orientação abalizada ou a matéria de valia.
“Sente e espere um pouquinho”.
O padre, na escrivaninha, abria a
máquina de datilografia. Os espíritos santos desciam e se transformavam em
letras debulhadas, em palavras e frases que se espichavam no papel e se
moldavam em ideias que encantariam os leitores na segunda-feira de manhã e pelo
futuro sem fim.
O padre jornalista puxava a folha do carro,
cutucava com a caneta aqui e ali e me entrega a matéria de fundo da semana.
“Cartas de Além Mar”, como as outras
obras que saem do labor intenso e profissional de Ana Medina (Cartas de Hermes
Fontes, Efemérides de Epifânio Dórea, Vida e obra de Mário Cabral... são
sacrários da memória de nossos gênios. Pelo menos essa (memória) não se perderá. É "Trilhando Memórias" que Ana vai revelando e preservando tesouros. Este está
contido em um alentado volume de 496 páginas, bem editado (pena que não tem
cadernos costurados), adornado por capas marcantes. O conteúdo é ouro puro.
xxx
Bons tempos estes em que as pessoas
escreviam cartas, se estavam longe dos seus. E louvável proceder de quem as
recebia e as guardava com cuidado. Graças a Dom Luciano e sua irmã Carminha
(também aos demais destinatários) temos essa fortuna que é o livro
“Cartas de Além Mar, Epistolário de Dom Luciano Duarte”, que Ana Maria Fonseca
Medina nos oferece.
(Por Antônio FJ Saracura, em
2020ago28).
Observação:
O livro está a venda na Lojinha
“Mister Grão”, na galeria do fundo do G Barbosa da Francisco Porto, por
60,00, onde comprei. Se ainda não acabou. Também na Escariz, na Rádio Cultura, na Sacristia da Igreja de Jesus Ressuscitado.